DA REPÚBLICA À REDEMOCRATIZAÇÃO
HISTÓRIA E MEMÓRIA SOCIAL
Eunice Torres Nascimento
11/21/20253 min read
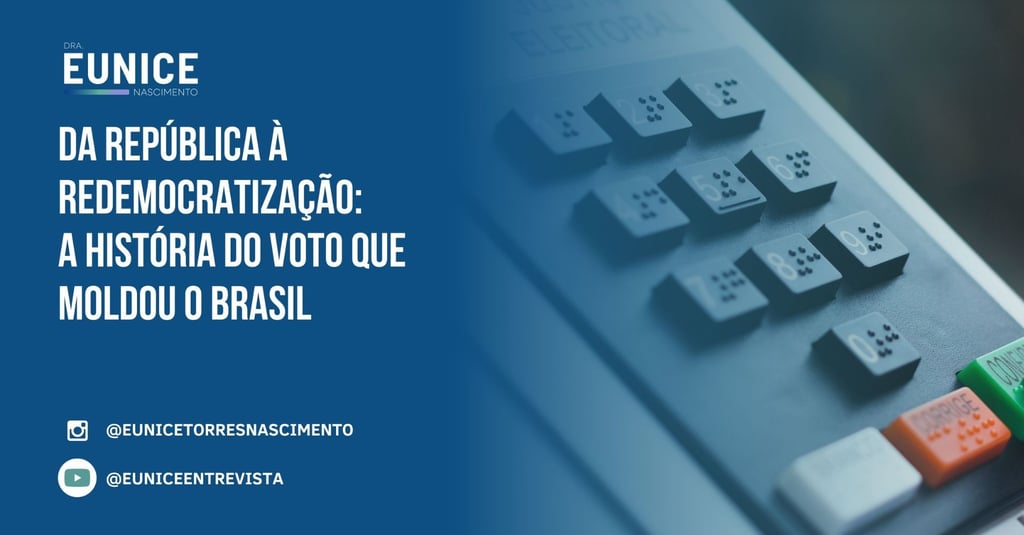
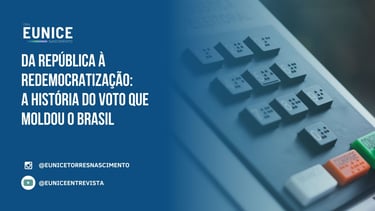
Quando o Brasil proclamou a República, em 1889, o país não ganhou apenas um novo regime político: ganhou a oportunidade de se reorganizar a partir de ideias que, até então, pareciam distantes. Entre elas, a mais importante foi a separação dos poderes, defendida por Montesquieu no século XVIII como um mecanismo essencial para evitar tiranias.
O filósofo acreditava que o poder só poderia ser equilibrado quando dividido em três funções distintas: legislar, governar e julgar. Essa estrutura, que hoje nos parece tão natural, foi revolucionária em sua época e se tornou o eixo central das democracias modernas.
O mundo vivia um momento de efervescência intelectual. Era o período do Iluminismo, no qual cientistas e pensadores buscavam explicações racionais para tudo: da política às ciências naturais. Lavoisier, embora químico, simbolizou como poucos esse espírito de transformação ao definir que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, uma ideia que, curiosamente, descreve de forma perfeita a trajetória política do Brasil nas décadas seguintes. A passagem da monarquia para a república não apagou o que existia antes; apenas transformou o país, gradualmente, em outra coisa.
A primeira grande prova dessa transformação foi a Constituição de 1891, o documento que deu forma oficial à República recém-nascida. Inspirada fortemente na Constituição dos Estados Unidos, ela estabeleceu pela primeira vez no Brasil a tripartição dos poderes, o presidencialismo e o federalismo.
No entanto, apesar de introduzir conceitos modernos, essa Constituição mantinha um forte limite: o voto era restrito a homens alfabetizados, o que excluía a ampla maioria da população brasileira.
Esse detalhe se torna ainda mais marcante quando comparamos com o avanço do voto feminino no mundo. Em 1893, a Nova Zelândia tornou-se o primeiro país a reconhecer o direito das mulheres votarem, uma decisão surpreendentemente progressista para a época. Já nos Estados Unidos, o voto feminino nacional só seria conquistado em 1920. O Brasil demorou um pouco mais: apenas em 1932, com o Código Eleitoral de Getúlio Vargas, as mulheres foram finalmente autorizadas a votar.
A professora potiguar Celina Guimarães Viana, em 1927, tornou-se a primeira mulher brasileira a registrar-se como eleitora, antecipando o movimento nacional e abrindo caminho para que outras pudessem participar da vida cívica do país.
Mas a caminhada da democracia brasileira nunca foi linear. A Constituição de 1934 trouxe avanços importantes, incluindo a ampliação dos direitos políticos e a oficialização do voto feminino em âmbito nacional. No entanto, apenas três anos depois, em 1937, o Estado Novo instaurou uma nova Constituição autoritária, que suspendeu liberdades, fechou o Congresso e concentrou o poder nas mãos do Executivo,um movimento que distorcia completamente os ideais de Montesquieu.
Com o fim da ditadura de Vargas, a Constituição de 1946 devolveu ao Brasil um horizonte democrático, restabelecendo eleições diretas e fortalecendo a autonomia dos poderes. Era uma época de esperança, embora instável. Anos depois, o golpe militar de 1964 interrompeu novamente esse ciclo, impondo censura, limitando direitos civis e reorganizando o país sob a Constituição de 1967, adaptada em 1969 para endurecer ainda mais o controle sobre a política.
E é aqui que a história ganha novos protagonistas: a sociedade civil, os movimentos estudantis, artistas, jornalistas, trabalhadores, famílias inteiras que, pouco a pouco, começaram a ocupar ruas e praças exigindo o retorno da democracia. O movimento das Diretas Já, no início dos anos 1980, devolveu ao país algo que parecia esquecido: a força coletiva da participação popular. Não se tratava apenas de votar; tratava-se de recuperar a própria voz.
Essa pressão resultou na convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que deu origem à Constituição de 1988, nossa atual Carta Magna. Conhecida como Constituição Cidadã, ela ampliou direitos, fortaleceu a separação dos poderes proposta por Montesquieu e finalmente tornou o voto verdadeiramente universal, incluindo homens, mulheres, alfabetizados e analfabetos, sem qualquer distinção.
Da República à redemocratização, o Brasil passou por avanços, retrocessos, silêncios e renascimentos. Cada Constituição representou um país diferente, ora fechado, ora aberto, ora sufocado, ora vibrante. No fim, a democracia brasileira se transformou da mesma forma que Lavoisier descreveu a matéria: nada se perdeu completamente, tudo foi sendo remodelado pelas escolhas, pelos conflitos e pela coragem de diferentes gerações.
Hoje, quando depositamos um voto na urna, não estamos apenas participando de um processo eleitoral. Estamos continuando uma história que começou muito antes de nós, e que depende de cada um para seguir de pé.